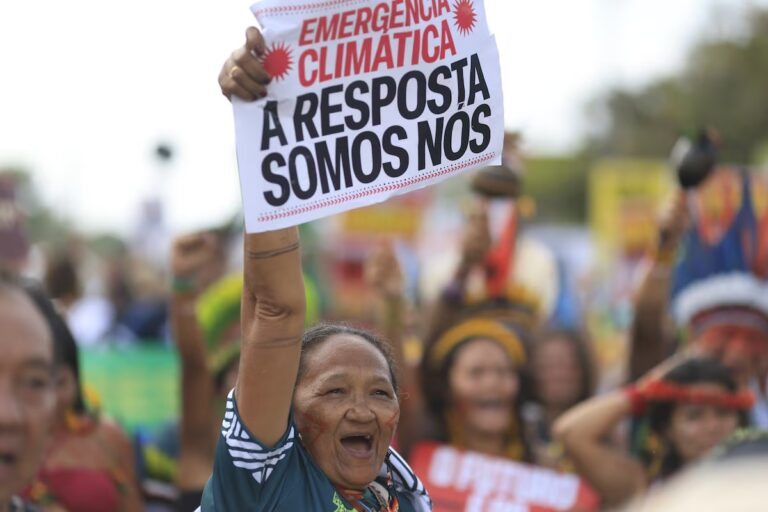Não é só ambiental, é econômica: a nova agenda da sustentabilidade
Noventa e três por cento dos especialistas em sustentabilidade defendem a necessária revisão da agenda – desses, mais da metade pede revisão radical. O dado, da pesquisa Sustainability at a Crossroads Report (2025), além de simbólico, é diagnóstico: as práticas e as abordagens correntes não entregam o prometido para 2030. Rever, aqui, não significa retroceder; significa ajustar a rota para produzir impacto real no tempo que importa.
O quadro é ainda permeado, é claro, por nuances geopolíticas. Enquanto ganham força as reações contrárias nos EUA e em parte da Europa à agenda de sustentabilidade (incluindo ESG), a Ásia-Pacífico tende a ver a turbulência como janela de oportunidade, contraste que reorienta capital, tecnologia e regras do jogo.
Nesse ambiente marcado por tensões, um termo tem ficado cada vez mais presente no campo corporativo: o greenhushing, ou silenciamento verde; a decisão de empresas que, apesar de avançarem na sustentabilidade, optam por falar menos publicamente de suas iniciativas e metas para evitar ataques regulatórios, políticos ou ruído reputacional. Na mesma direção, instituições financeiras antes símbolo do protagonismo climático, como a gestora BlackRock, pressionadas por forças políticas e regulatórias, chegaram a se retirar de alianças globais de descarbonização – movimento também seguido por bancos como JP Morgan e State Street.
Esse recuo revela o dilema atual: pressões políticas reduzem compromissos públicos, mas as exigências de governança climática e de reporte só aumentam. Em paralelo, a pauta climática deixa de ser apenas ambiental para se tornar questão de segurança nacional e variável de poder, além de ganhar força econômica.
À luz desse cenário, o Brasil tem, sim, vantagens comparativas – água, biodiversidade, matriz elétrica limpa, potencial de bioeconomia, florestas e minerais críticos -, mas a janela é curta. Não há país com capacidade natural tão favorável para transformar sustentabilidade em competitividade produtiva; porém, num mundo a 2°C, 2,5°C ou 3°C, parte desse capital pode ser reprecificado: regimes de chuva mais erráticos pressionam agro e hidrelétricas; calor extremo e eventos severos elevam custos; ecossistemas perdem resiliência. A resposta está em acelerar a conversão da natureza em vantagem econômica de longo prazo. Sem ação, nossa vantagem encolhe com o termômetro; com ação, ela vira poder econômico e inserção internacional.
Mas, afinal, o que muda ao tratarmos clima como política de Estado? Primeiro, a pauta deixa de ser periférica e vira eixo de competitividade. O salto ocorre quando o capital natural sai do anexo e entra no núcleo (core) da estratégia de governos, com a tradução da política industrial verde em política externa; e de empresas, integrando conselhos, gestão de riscos e metas trimestrais – para sair do papel, cresce o uso de métricas como o ROSI (retorno do investimento em sustentabilidade), que captura produtividade, inovação e redução de risco além do ROI (retorno do investimento) tradicional.
A experiência alemã aprofunda esse ponto. Lá, a indústria impulsionou a transição (automotivo, químico, siderurgia) e o Estado organizou instrumentos para viabilizar custo e escala: financiamento de longo prazo, estímulos a P&D e difusão tecnológica, além de contratos diferenciados de carbono. A diplomacia espelhou essa ambição, conectando política industrial à política externa. Resultado: a pauta climática migrou de “ambiental” para estratégia de competitividade.
Em segundo lugar, é preciso executar o que tem alto impacto e alta viabilidade neste quinquênio: no governo, precificação de carbono e subsídios que favoreçam soluções inovadoras; no setor financeiro, integração de ESG às decisões de investimento. Já na sociedade civil, incidência pública (advocacy) por políticas e estímulos à mudança de comportamento. Por fim, no setor privado, P&D, inovação tecnológica e melhoria da performance ao longo da cadeia de suprimentos – os novos padrões de reporte IFRS S1 e S2 reforçam a inevitabilidade da integração da natureza à contabilidade corporativa.
Para os conselhos de administração, a mensagem é inequívoca: governança climática não é reputação, mas dever fiduciário. É uma agenda de riscos materiais – perdas de ativos, cadeias interrompidas, prêmios de seguro e crédito reprecificado – que já pressionam balanços. Recuar pode dar alívio político de curto prazo, mas amplia riscos de longo prazo. Cabe aos conselhos estruturar comitês, métricas e incentivos para integrar clima e natureza às decisões centrais de risco e estratégia. Consistência, mais do que slogans, é o que protege valor em um cenário de escrutínio crescente.
Em terceiro lugar, é hora de trocar a narrativa de vulnerabilidade pela de solução, apresentando o Brasil como fornecedor confiável na descarbonização global, com projetos concretos prontos para escalar. O ponto-chave aqui é integridade: medir, verificar e manter benefícios (clima, água, biodiversidade e renda) para que a natureza seja reconhecida como ativo produtivo e gere crédito de qualidade e empregos.
Diante de um mundo que já admite décadas de ultrapassagem temporária do limite de 1,5°C (overshoot) até eventual retorno a níveis mais seguros de aquecimento, precisamos de mais de tudo, mas não mais do mesmo. Isso inclui construir, agora, nossas vantagens comparativas sustentáveis.
Nada disso, porém, se faz no vácuo. As regras serão redesenhadas, e o regime ambiental vive estresse. Revisar a agenda, portanto, é acelerar: alinhar política industrial e política externa, priorizar alavancas viáveis de alto impacto e reposicionar o país como arquiteto da transição, com a sustentabilidade afirmada como estratégia de desenvolvimento e inserção internacional. Em um mundo que disputa escassez e reescreve instituições, ficar na defensiva é uma escolha; liderar, também.